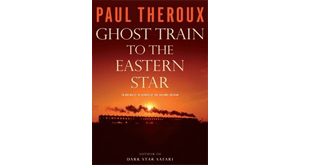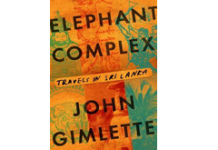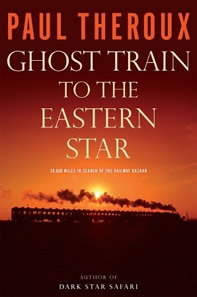 Paul Theroux é um nome mítico da literatura de viagem que se começou a distinguir em 1972, quando publicou “The Great Railway Bazaar” (disponível em Portugal sob o título “O Grande Bazar Ferroviário“, que deixa desde logo uma negra sombra sobre a qualidade da tradução encerrada no volume; preço: 15 Eur), onde narrava a sua primeira grande viagem, que o levara de Londres até ao Japão, quase sempre de comboio.
Paul Theroux é um nome mítico da literatura de viagem que se começou a distinguir em 1972, quando publicou “The Great Railway Bazaar” (disponível em Portugal sob o título “O Grande Bazar Ferroviário“, que deixa desde logo uma negra sombra sobre a qualidade da tradução encerrada no volume; preço: 15 Eur), onde narrava a sua primeira grande viagem, que o levara de Londres até ao Japão, quase sempre de comboio.
Desde então esteve envolvido em múltiplos projectos, alcançando grande notoriedade com o seu romance que esteve na origem do filme A Costa do Mosquito (1986), dirigido por Peter Wird, e onde Harrison Ford brilhava no auge do seu estrelado, entre os “seus” Star Wars e Indiana Jones.
Foi em 2008 que o livro que hoje abordamos saiu para as bancas. O projecto explica-se em poucas palavras: Theraux procurou replicar a grande viagem de 1972, aquela que projectou o seu nome na lista dos best-sellers, com as adaptações necessárias à luz da nova ordem mundial. O Irão recusou-lhe visto de entrada; acobardou-se com a ideia de entrar no Paquistão e sobretudo no Afeganistão. Mas isso não o impediu de, aos 65 anos, sair de Londres a bordo de um comboio com destino a Paris.
Da capital francesa seguiu sem se deter até Viena, depois Budapeste. Passou a Bulgária e apenas quando chegou à Turquia fez uma pausa e aprofundou em papel as impressões recolhidas. A partir daí contornou o Irão, atravessando a Geórgia, Azerbeijão, Turquemenistão… e na India gastou algum tempo, antes de prosseguir para Myanmar depois de uma breve passagem pelo Sri Lanka. Já se vê que refez todo aquele percurso que no início dos anos 70 o tinha conduzido até ao Japão, onde então, como em 2006, tinha terminado a sua longa jornada de comboio.
Theraux é um mestre da palavra; com a sua prosa pinta cenários, ultrapassando as limitações do visual, entrando nos domínios do subjectivo, captando e descrevendo sabores, cheiros e sons. É um gosto ler as suas descrições de texto rico, brilhando com o detalhe, sem nunca se tornarem pesadas em excesso, pormenorizadas até à exaustão. Não, o autor sabe onde parar, mantendo um ritmo vivo através das centenas de páginas do livro. Mas nem tudo são rosas no jardim de “Ghost Train to the Eastern Star”: muitos leitores e críticos têm acusado Theraux de falta de curiosidade, de ser incapaz de fazer corresponder a beleza formal da sua escrita com conteúdos de interesse. Sou forçado a concordar. Falta-lhe, portanto, capacidade de produzir o sumo que as belas peças de fruta que agarra poderiam proporcionar.
Na literatura de viagem abusa de certos tiques de jornalista. Torna-se num aspirante a investigador, quando talvez o leitor esteja mais interessado nos relatos de viajante. As suas abordagens às pessoas com que se cruza nestas deambulações são invariavelmente dominadas por uma obsessão analítica, que passa por um interrogatório premeditado. Theroux quer ver com olhos de sociólogo. Torna-se aborrecido, falta-lhe expontaneidade. Nunca interage com ninguém de forma despreocupada, apenas pelo prazer da companhia. Chega mesmo a dar a ideia que tal cenário o horroriza.
Mas que não restem dúvidas: este é um livro que vale a pena ler. Nem mesmo certos tiques de chauvinismo norte-americano – felizmente esparsos – retiram o gosto pela leitura de Ghost Train to the Eastern Star. Os locais são demasiado interessantes, a arte da prosa do autor demasiado inebriante. As 500 e tal páginas podem assustar, mas escorrem muito bem, especialmente nestes dias preguiçosos de Verão.